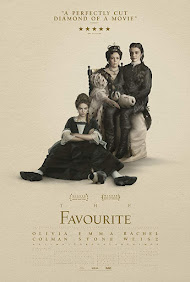Numa época em que os vampiros são classificados como seres sem presas, que brilham na luz e não se alimentam de sangue humano, a produção “Daybreakers” surge, ao menos, para tentar honrar a originária fama dos sanguessugas. A história se desenrola a partir de uma situação nova no gênero: quase totalidade da raça humana se transformou vampiro. Os poucos que sobraram vivem escondidos e sob a constante ameaça de servirem como alimento para a população dos dentuços. Na escassez de sangue puro, a expectativa de vida torna-se mínima, reduzindo os morto-vivos em subespécies horrendas, que, desesperadas matam os demais vampiros para se alimentar.
A situação é de caos e medo na cidade em que se passa a trama. Cartazes com figuras das Forças Armadas promovem a captura dos humanos. O governo prevê que o estoque de sangue deve terminar em menos de um mês. Essa atmosfera é retratada com imagens azuladas e escuras, pouca utilização de trilha sonora e alguns sustos. A produção inicia com a tensão necessária para se tornar um ótimo exemplar dos filmes de vampiros.
“Daybreakers” não sustenta o argumento inicial porque decide transitar através de desdobramentos comuns, sem aproveitar o diferencial do projeto e direcionando a narrativa até uma matança de vampiros chata que ao invés de assustar dá sono. Ethan Hawke e Sam Neil – sem comentar a péssima Isabel Lucas - estão ali para pagar o aluguel, já que não se esforçam para aparentar que são sugadores de sangue. O reduto do filme é aproveitar que o gênero está em alta e tentar descolar um espaço ao lado de “Anjos da Noite” na locadora. Até porque as diferenças entre os dois não são muitas.
Nota: 5