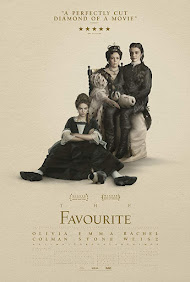"Jackie" não é uma cinebiografia tradicional, acompanhando desde o nascimento até a morte da primeira-dama mais famosa dos Estados Unidos. O filme dirigido pelo chileno Pablo Larrain ("No") se passa sete dias após o assassinato do presidente Kennedy, quando sua esposa decide quebrar o silêncio e falar com a imprensa.
Jacqueline recebe em sua casa o jornalista Theodore White (Billy Crudup), que, durante a conversa, fará com que sua fonte relembre a trajetória ao lado do marido e, principalmente, os acontecimentos entre a morte de JFK e o seu funeral.
O forte sotaque, a voz doce e os trejeitos levemente discordenados de Natalie Portman na pele da protagonista incomodam em um primeiro momento. O desconforto pela atuação carregada logo dilui-se frente ao trabalho dedicado tanto na fidelidade quanto na caracterização da homenageada.
A Jackie de Portman fisga o espectador e revela um trabalho elegante que, ao fim da sessão, fará com que este reveja sua opinião quanto a improvável escalação da atriz para viver a personagem. Depois de "Cisne Negro", certamente esta é sua melhor atuação.
Durante a entrevista, a ex-primeira-dama revela a jogada de mestre - ou de marketing mesmo - executada durante seus últimos dias na Casa Branca. Atormentada pela possibilidade de terminar sem nenhum tostão como a esposa de Abraham Lincoln, considerado a principal referência na política norte-americana, Jackie aproveita para oferecer a solenidade que seu marido, a nação e o mundo merecem.
A primeira-dama percebe que esta é a chance de garantir o lugar de John F. Kennedy na história. Para isso, ela enfrentará uma corja de homens poderosos querendo barrar suas ideias, incluindo o próprio irmão do falecido, Bobby (Peter Sarsgaard).
Apesar da aparente fragilidade, Jacqueline sabe que aquele é o momento decisivo da sua vida, e o torna num espetáculo, com direito à carruagem para carregar o caixão numa marcha solene pelas ruas de Washington. A primeira-dama também faz questão que seus filhos pequenos participem da cerimônia.
Desta forma, a produção apresenta o momento mais obscuro da figura pública que foi Jackie Kennedy, sem os tradicionais acenos e sorrisos em terninhos coloridos. A tela explora, na verdade, um momento de luto. Aliás, a cena da morte, inclusive com a bala explodindo o cérebro do presidente, é repetida diversas vezes na projeção.
Naquele momento, o sonho se desfaz frente aos olhos de Jackie, que esteve apenas dois anos na Casa Branca. Vê tudo ruir ao seu redor. A morte de JFK significa perder o marido, o pai de seus filhos, o casamento, o título de primeira-dama, a estadia na Casa Branca, sua fonte de renda/sustento e até mesmo seu sobrenome.
"Jackie" é um filme sobre perda, sobre legado, sobre a força feminina, mesmo que por vezes revele interesses e preocupações fúteis da biografada, como decorar a Casa Branca ou oferecer concertos para a elite. Por fim, a jornada resulta num amadurecimento da personagem, que precisa lidar com as desventuras do destino. O longa comprova que, além de John Kennedy, nascia uma outra lenda.
Nota: 7,5