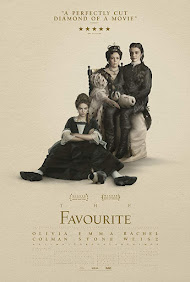Qualquer encanto que “Like Crazy” possa provocar deve-se consideravelmente a Felicity Jones. A atriz de 28 anos está hipnotizante como Anna, uma estudante britânica de passagem pelos Estados Unidos que se apaixona por seu colega de faculdade. É ela que traz emoção e autenticidade a um amor que, em um segundo momento, deverá sobreviver à distância: Anna é banida do país porque não renovou seu visto.
“Like Crazy” explora o relacionamento de um jovem casal com um olhar romântico e intenso, valorizando momentos íntimos que são essenciais para desenvolver a intimidade dessas duas pessoas que acabaram de se conhecer e, seja pelo destino ou não, terminam se apaixonando. Enquanto Feliciy confere toda essa paixão ao projeto, o seu par, Anton Yelchin, em alta por filmes como “Star Trek”, “Um Novo Despertar” e “A Hora do Espanto”, não demonstra tanto envolvimento com o personagem e fica no campo da apatia.
Contornando esse detalhe, o diretor Drake Doremus confere um ponto de vista quase documental para a história, como se uma câmera estivesse escondida gravando um acontecimento real. Porém, se por vezes o cineasta investe na simplicidade, o que deixa o ritmo lento, por outras, utiliza truques para não deixar o interesse diminuir, como passagens de tempo em cortes acelerados. É o caso da bela sequencia dos vários dias em que o casal não sai da cama.
Essa jogada com a trama de certa maneira funciona e até confere uma personalidade ao projeto. “Like Crazy” torna-se uma mistura de romance adolescente com drama alternativo. O ponto negativo disso tudo é que seu desenrolar vem a ser cansativo e não atinge com tanta força a mensagem final que busca transmitir. O fôlego apresentado no início fica mais escasso quando aproxima-se do encerramento. Mas, isso não chega a ser um problema para o trabalho de Doremus e, principalmente, de sua musa Felicity Jones, que, mesmo com essa suposta decaída, consegue até o último segundo deixar o espectador vidrado na tela. Like crazy.
Nota: 7,5