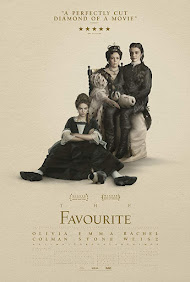O jovem casal Vic (Emily Blunt) e Tom (Jason Segel) decide se casar. Ao começar o planejamento da cerimônia, ela recebe uma carta da Universidade de Michigan com a oferta irrecusável de um emprego com validade de dois anos. Para não perder a oportunidade, os dois mudam-se de cidade e optam por adiar o casamento pelo período. Este será o primeiro empecílio do casal. Muitos ainda virão, porque, não por menos, o título dessa história é “Cinco Anos de Noivado”. Acompanhar os altos e baixos desse relacionamento é uma experiência interessante, cansativa e carismática.
O roteiro escrito por Segel e Nicholas Stoller (“Ressaca de Amor”), que também dirige o longa-metragem, é calcado na atual realidade em que ambas figuras do casal possuem individualmente suas carreiras profissionais – o que pode gerar conflitos. Tom, por exemplo, abdicou do cargo de chef de cozinha para morar com a noiva em uma cidade do interior que não tem apresenta um mercado em desenvolvimento para a gastronomia. O filme, ao abordar temas da vida moderna, representa novos impasses que se apresentam frente a instituição do casamento – esta que já não demonstra a mesma importância do passado.
No filme, a cerimônia simboliza o final feliz para os protagonistas. O problema é que esse encerramento parece ficar cada vez mais difícil ao passo que o casal cria lentamente uma distância entre si. Dessa forma, a comédia romântica insere uma pitada amarga quanto o desgate dos relacionamentos, promovendo perguntas como “Por que adiamos as coisas? Nunca estamos satisfeitos? Estamos sempre esperando um melhor momento?”.
Enquanto tentam resolver seus problemas antes de casar, Tom e Vic acabam esticando a duração do longa-metragem, deixando-o massante para o público. Inevitavelmente, a trama extensa de mais de duas horas torna-se cansativa – o que salva é o carisma absurdo de Emily Blunt, que ilumina cada uma de suas cenas. Um bom corte na edição resolveria esse problema. Fora isso, Cinco anos de noivado encerra em alta e consegue fazer uma análise válida sobre as relações humanas. Só é preciso ter um pouco de paciência.
Nota: 6,5
Nota: 6,5





.jpg)







.jpg)